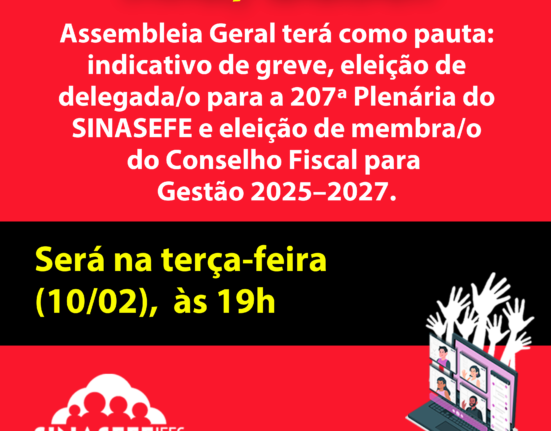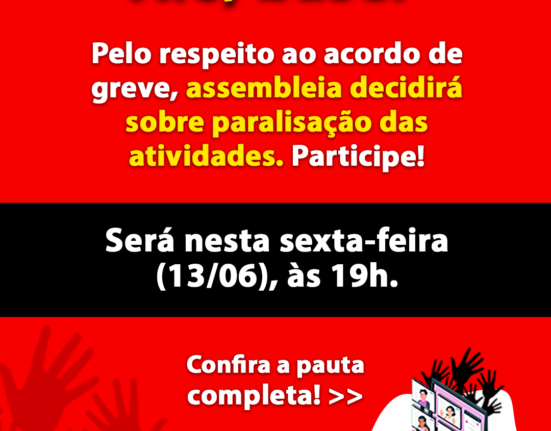ENTREVISTA: Mobilizações de maio serão decisivas, dizem Negri e Cocco
Data: 2 de maio de 2012
“No curto prazo, o mês de maio já se apresenta como um momento decisivo para sabermos se vamos poder contar com uma possível nova fase constituinte de lutas, depois daquela que conhecemos no ano passado. Muito depende de como o Primeiro de Maio organizado pelos “occupy” nos EUA e a mobilização global dos dias 12 e 15 de maio acontecerão. A grande questão é saber se o 15M e as redes sindicais conseguirão se encontrar num terreno não corporativo”, defendem Antonio Negri e Giuseppe Cocco em entrevista concedida na Espanha, onde ocorrerá esta semana o Seminário Internacional Crise da Representação e os Desafios da Democracia no século XXI.
Madri – No momento em que o movimento de contestação popular democrática 15M, também chamado de movimento dos indignados, completa um ano, o Governo do Estado do RS vai até a Espanha para apresentar seu sistema de participação cidadã. O Seminário Internacional Crise da Representação e os Desafios da Democracia no século XXI vai reunir pensadores, ativistas, representantes de sindicatos e governos para analisar experiências e soluções encontradas em várias partes do mundo, nos dias 4 e 5 de maio, na sede da Comissão Europeia, em Madri.
Nesta entrevista, Antonio Negri e Giuseppe Cocco traçam um panorama das mudanças provocadas por movimentos como o 15M, a crise da democracia nos países europeus e o papel que os países do sul podem desempenhar na busca por novos modelos de democracia, com novos canais e espaços de participação popular.
Antonio Negri, filósofo italiano, é professor titular aposentado da Universidade de Pádua (Itália) e professor de filosofia do Colégio Internacional de Paris (França). Entre outras obras, escreveu, em parceria com Michael Hardt, os livros “Império” e “Multidão”. Giuseppe Cocco, cientista político, doutor em história social pela Universidade de Paris, é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre outras obras, escreveu, com Antonio Negri, o livro “Glob(AL): Biopoder e Luta em uma América Latina Globalizada”.
Depois de um ano do início do movimento 15M, qual a força de mobilização e capacidade de renovação dos protestos?
Antonio Negri e Giuseppe Cocco: Uma boa maneira de se responder a essa pergunta é começando por uma definição adequada do que é o 15M, ou seja, o movimento da multidão na Espanha do ano passado. Uma primeira definição é muito simples: trata-se de um formidável processo de (re)apropriação da política por milhares de pessoas. Esses milhares de pessoas não se reúnem a partir de alguma identidade prévia (por exemplo, a condição objetiva dentro da divisão técnica e social do trabalho), mas se constituem como uma multidão de singularidades (a classe que nós podemos enxergar nessas lutas é uma produção de subjetividade).
Usando as palavras de Raúl Sanchez, podemos definir o 15M e as primaveras árabes também como movimentos de revolução democrática: inventores de democracia e radicalizadores da democracia. A invenção da democracia acontece na sua radicalização: na imanência que contém a forma e o conteúdo dessas lutas. Hoje o 15M está chegando a um ano de existência e se constitui como que um prisma a partir do qual se pode olhar para os movimentos que o anteciparam (a primavera árabe) e para os que o seguiram (o occupy wall street). Seu horizonte é o da sua globalização!
Os protestos e as mobilizações nunca pararam e continuaram a se propagar de maneira viral: atravessaram o Mediterrâneo até as praças de Tel Aviv, e depois atravessaram o Atlântico no Occupy Wall Street (que, por sua vez, teve como referência as longas manifestações na Assembléia Estadual em Wisconsin), generalizando-se em dezenas de cidades dos Estados Unidos, de costa a costa; depois disso, as lutas voltaram para a Praça Tahrir no Egito e para a Praça Syntagma de Atenas. No dia 15 de outubro do ano passado as manifestações foram globais e chegaram também ao Brasil (embora de maneira ainda embrionária).
Os contextos de cada um desses movimentos foram muito diferente e em nenhum deles se repetiu o que acontecia em outro lugar. Contudo, cada um deles conseguiu traduzir para a sua singularidade alguns elementos comuns. Como dissemos, esses movimentos desenvolveram-se numa “forma multidão”, algo como um “fazer-se da multidão”: frequentes assembléias e decisões participativas. As mídias sociais (como Facebook e Twitter) foram instrumentos de rede: evidentemente, elas não criam os movimentos, mas são ferramentas úteis, porque, em vários sentidos, correspondem à estrutura dos experimentos horizontais e democráticos dos próprios movimentos. Em outras palavras, o Twitter é útil, não porque divulga eventos, mas porque reúne as ideias de uma grande assembléia para uma decisão específica, em tempo real. Na rede, em seus códigos e protocolos, reside o mecanismo de ativação e modulação de um movimento que funciona como um enxame.
Assim, o movimento espanhol se constituiu numa primeira e potente resposta às consequências políticas e sociais da crise sistêmica do capitalismo global. Nesse sentido, ele herdou e requalificou os protestos da multidão grega, articulando a “recusa a pagar” pela crise do neoliberalismo com uma capacidade de mobilização autônoma e horizontal de tipo novo e constituinte, fortemente inspirada na relação estreita que as revoluções árabes estabeleceram entre as mídias sociais e as praças.
Além disso, o 15M foi também a invenção de uma zona de mobilização autônoma diante do impasse gerado pela gestão totalitária que o governo socialista espanhol optou por fazer da crise, obedecendo passivamente às medidas impostas pelas finanças, pela União Européia e agências de rating. O PSOE de Zapatero esvaziou totalmente o terreno da representação como possível espaço de negociação e acabou transformando a anunciada vitória da direita neofranquista em um verdadeiro pesadelo: sem alternativas.
Na impossibilidade de apelar para um voto reformista ou até simplesmente “útil” (pois teria significado aceitar e legitimar a chantagem da gestão antissocial e antidemocrática da crise implementada pelo PSOE a partir da ditadura das finanças) o movimento foi a única brecha encontrada; e podemos dizer ainda que um de seus grandes resultados foi o de esvaziar antecipadamente a legitimidade da vitória eleitoral da direita. Contudo, o movimento enfrenta hoje dois desafios: um primeiro – de tipo geral – é renovar-se nas mobilizações de rua e com isso avançar no terreno da luta contra a crise; um segundo – mais especifico – é conseguir inovar nas formas de mobilização, agora que a representação (o governo) se apresenta como aberta regressão reacionária e os espaços de manifestação democrática são submetidos à chantagem da repressão e da violência.
De maneira um pouco mais geral, a questão que se coloca hoje é de saber se esses protestos e mobilizações conseguirão continuar suas lutas com uma capacidade adequada de inovação. Podemos então reformular a questão inicial nesses termos: a multiplicação dos protestos que já acontece e se aprofundará, além de se constituir em horizonte inevitável de toda reflexão teórica e política, pode voltar a renovar suas dimensões constituintes? As múltiplas instâncias do 15M e dos movimentos “occupy” já enfrentaram o desafio apostando na recomposição dos movimentos em dois grandes momentos: o primeiro de maio (o May Day) lançado pelo Occupy Wall Street nos Estados Unidos, e o 12 e 15 de maio lançado pelo 15M espanhol.
O 15M – enquanto movimento global – já pode também contar com mais uma inovação: a mobilização operária e sindical. Houve uma grande manifestação nacional do sindicato dos trabalhadores metalúrgicos na Itália (a FIOM) e uma greve geral (de 24 horas) na Espanha. Na Itália, os metalúrgicos protagonizaram greves espontâneas, manifestações e piquetes de rua contra a reforma trabalhista e enfim confluíram numa grande manifestação nacional no dia 9 de março de 2012. Na Espanha, as duas principais centrais sindicais (UGT e CCOO) mobilizaram um vasto protesto contra a flexibilização selvagem do mercado do trabalho, tentando inclusive se tornar o eixo de referência do conjunto da oposição social à ditadura financeira consolidada no governo de direita (do PP). A greve geral foi atravessada pela constelação de realidades dos movimentos oriundos do 15M rumo à mobilização global de 12 e 15 de maio. Nas manifestações, a multidão dos jovens precários e desempregados clamava pela apropriação da greve (Toma la huelga) para preparar uma outra greve (Otra huelga).
Ao invés de constituir uma normalização do movimento nos moldes tradicionais de organização sindical, a greve geral espanhola acabou se mestiçando nas práticas de luta dos trabalhadores que já estão fora da relação salarial e precisam de novas formas de organização e, sobretudo, de um novo programa. Apareceu com clareza o desafio de juntar a greve “geral” contra a austeridade e o endividamento com a as lutas de defesa das condições gerais de vida (biopolíticas) democrática. A questão que está colocada é, pois, como a “greve geral” saberá se tornar uma outra greve, uma resistência geral contra a chantagem da austeridade e do endividamento, rumo a um programa que tenha como base a defesa da própria vida, das bases biopolíticas da democracia: greve geral e renda universal!
Quais as possibilidades de construção de sínteses a partir dessas novas mobilizações para uma nova agenda democrática?
AN e GC: Mais do que pensar na construção de novas “sínteses”, o desafio atualmente é a renovação e a propagação dos movimentos “constituintes” e, dentro e a partir deles, de uma nova agenda democrática, de um novo “programa”, um programa da multidão. O eixo desses esforços foi definido pelos próprios movimentos: trata-se da luta para a reapropriação social de tudo que a renda financeira expropria; uma luta rumo à construção de um “novo welfare”, capaz de libertar as vidas da chantagem dos dispositivos de endividamento e das infinitas modulações dos fragmentos de inclusão-exclusão, exclusão-inclusão.
Dito de outra maneira, diante do ataque generalizado a toda produção social, a única maneira de defender o trabalho é defender a cooperação social como um todo. A defesa do “trabalho” precisa enraizar-se na defesa de toda a produção social, ou seja, da conexão das lutas por salário “dentro” da empresa com as lutas de todas as subjetividades pela renda “fora” da empresa. Sem essa conexão, as lutas são incompreensíveis e impotentes. Já temos aqui o conteúdo e a função do programa. O novo programa será adequado se souber construir essa conexão: renda incondicional, welfare universal e a apropriação dos serviços e dos bens para além da clivagem público/privado, no terreno da constituição do comum.
A gestão da crise do capitalismo global está se dando num terreno de exceção, à qual somente as dinâmicas constituintes dos movimentos de tipo novo podem responder para transformá-la em radicalização democrática. Nesse sentido, as manifestações sindicais de 9 de março na Itália e a greve geral de 29 de março na Espanha constituíram importantes momentos de generalização das lutas. No curto prazo, o mês de maio já se apresenta como um momento decisivo para sabermos se vamos poder contar com uma possível nova fase constituinte, depois daquela que conhecemos no ano passado. Muito depende de como o May Day (Primeiro de Maio) organizado pelos “occupy” nos Estados Unidos e a mobilização global dos dias 12 e 15 de maio acontecerão.
De maneira mais geral, a questão é de saber se o 15M e as redes sindicais conseguirão se encontrar num terreno não corporativo, ou seja, na construção de uma agenda adequada. E a agenda somente será adequada se houver clareza sobre o fato de que não se trata de defender (apenas) o trabalho dentro da relação salarial (dentro do emprego), mas as bases sociais gerais de um trabalho que acontece também e, sobretudo, fora da relação de emprego, envolvendo a vida como um todo: no setor terciário (serviços), nas redes sociais, na precariedade e na informalidade. Sem esta compreensão das dimensões pós-industriais do trabalho produtivo, das qualidades cognitivas da força de trabalho e, enfim, das dimensões sociais que a qualificam ao mesmo tempo em que qualificam a produção como um todo, não haverá recomposição de classe. É nesse sentido que hoje a luta é pela defesa das condições gerais de vida e implica a construção de uma nova agenda democrática a partir do tema geral da Renda de Cidadania.
Mais ainda, sindicatos e movimentos têm que construir frentes e instituições como “Bolsas de trabalho” ou “Pontos de trabalho” para poder organizar reivindicações salariais para todos: para os que têm um emprego e para os que não o têm, para os que têm um estatuto e para os que estão na precariedade, e isso passa necessariamente pela luta em prol de uma renda social incondicional. Quando a empresa se torna social, o sindicato também deve tornar-se social. Isso é de grande atualidade no Brasil! Pensemos, por exemplo, em como as lutas dos sindicatos dos professores ficam hoje limitadas e corporativas ao não conseguirem se articular com os territórios.
Sem a reconquista da riqueza socialmente produzida por meio de uma renda social universal e incondicional, a relação salarial não saberá se tornar a base constituinte de uma agenda democrática, de maior liberdade e igualdade, para superar o neoliberalismo. O salário é hoje uma ferramenta social. É por isso que o capital financeiro controla direta ou indiretamente a indústria, os serviços, o trabalho social em geral; e sua atuação é imediatamente política: por essa razão o capital ocupa diretamente os governos que, por sua vez, operam a partir das métricas, das medições (ratings) que as próprias finanças impõem. Diante da governança financeira do trabalho social, os governos se tornam órgãos de execução de seu comando direto. Assistimos a uma inversão das tradicionais relações de servilismo entre governos e capital: os ministros não são mais empregados do capital, mas são os empregados do capital que se tornam ministros.
As acampadas do 15M, do Occupy, da Praça Syntagma e também aquelas embrionárias que aconteceram no Rio de Janeiro, em São Paulo e Salvador – a partir do conflito com o capital e seu governo – estão trilhando um terreno novo, ou seja recompondo – entre as redes e as praças – as lutas operárias, as lutas por moradia, por escola, pela saúde, e vão também começando a intervir na gestão das escolas e dos hospitais, elaborando experimentações de inovação do mercado do trabalho. Trata-se mesmo de fazer isso, de reconstruir desde baixo as redes das relações sociais que hoje permitem que as empresas funcionem; apontar as contradições no plano concreto, os elos inovadores e os que destroem as redes; apreender, junto dos trabalhadores e/ou dos cidadãos, os modos de produção de subjetividade que os instauram.
A síntese que hoje faz sentido é mesmo aquela de um “estilo de militância” que associe a luta pela generalização da renda universal em todos os segmentos do trabalho social e a recomposição das lutas das forças de trabalho sociais com as lutas dos operários industriais, no terreno da constituição do comum.
Quais perspectivas podem vir do Sul, onde a tradição democrática é mais jovem, mas as experiências das novas metodologias têm sido referência, como no caso do Brasil e o Rio Grande do Sul?
AN e GC: O governo da crise sistêmica do capitalismo global se apresenta como uma “revolução desde cima”. O capital financeiro, longe de ser reduzido dentro dos marcos de regulação que supostamente deveriam restabelecer seus critérios prudenciais (conservadores!), está se mostrando não como um desvio, mas como o próprio modo de ser do capitalismo contemporâneo. Com a crise, sua ação não se reduz, mas alcança um novo patamar: depois de ter assumido o controle das redes sociais de produção, de ter substituído a relação capital–trabalho por aquela de crédito e débito, o capital financeiro se torna abertamente governo, passando por cima das próprias regras da democracia formal. É um poder de exceção que atua ao longo de duas linhas: por um lado, a redução dos governos e de todo o mecanismo da representação a meros executores técnicos das diretivas dos mercados; pelo outro, a destruição do welfare residual e com isso a destruição das próprias condições biopolíticas da democracia formal assim como a conhecemos no segundo pós-guerra.
Os governos da América do Sul se constituíram, nessa primeira década do novo milênio, numa tímida porém real contratendência: depois de ter abandonado as políticas de privatização, passaram a elaborar novas formas de proteção social (em particular, com a distribuição de renda e a valorização do salário mínimo) e algumas inovações democráticas: no Brasil podemos destacar as novas formas de participação (o orçamento participativo de Porto Alegre), as brechas de transversalidade abertas no Ministério da Cultura de Gilberto Gil, as conferências nacionais de comunicação, cultura, segurança, além de outros elementos de inovação reformista no terreno, como por exemplo, da política de cotas raciais nas universidades, de democratização do acesso ao ensino superior (Prouni e Reuni), da política indígena (como no caso da demarcação contínua da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima).
Na Argentina, as lutas pela democracia (em particular, com as políticas de direitos humanos e os processos da ditadura) e os “planes” de distribuição de renda foram particularmente importantes. Na Bolívia e no Equador tivemos intensos momentos constituintes. Além disso, os governos da América do Sul em geral e do Brasil em particular se engajaram nos rumos de uma nova política externa que articula criativamente o governo da interdependência com a multiplicação das relações Sul-Sul (no âmbito do G20, dos Brics, da Unasul etc.).
Nesse sentido, o Sul em geral e a América do Sul em particular pode ter um papel fundamental a desempenhar dentro da crise, colocando-se como um novo ponto de referência para os movimentos, no terreno da resistência democrática e de um reformismo inovador. Agora, esse papel não é nem automático e nem está consolidado. Pelo contrário, já existem inúmeras inflexões que nos fazem pensar em uma homologação dos projetos e das políticas dentro dos valores – decadentes, mas sempre em vigor – do capitalismo global.
Na Bolívia, por exemplo, onde parecia que as relações entre movimentos e governos fossem as mais abertas e íntimas, assistimos à multiplicação de conflitos (o gazolinazo no El Alto de La Paz, a marcha indígena no Tipnis contra a estrada construída com financiamento brasileiro por uma empreiteira brasileira) que envolvem diretamente a questão dos ‘projetos’ e dos ‘sujeitos’.
A solução “estatal” das escolhas de valores parece prevalecer sobre a opção da radicalização democrática. No Brasil também, o primeiro ano do governo Dilma conseguiu fechar – com rara obtusidade – uma série de interstícios que o pragmatismo da era Lula tinha deixado acontecer: a distribuição de renda continua fechada nos limites (neoliberais) da condicionalidade, mantendo o foco numa erradicação da pobreza que mais se assemelha a uma remoção dos pobres; a experiência inovadora do MinC foi destruída e com ela todas as políticas inovadoras em termos de uma política de redes; as relações com os movimentos sociais (organizados ou não) tornaram-se praticamente nulas; o Ministério das Comunicações abriu mão do plano de banda larga para agradar aos interesses das operadoras multinacionais de telefonia; as grandes obras (como Belo Monte, os Estádios da Copa e as Olimpíadas do Rio) são implementadas segundo uma lógica autoritária que é exatamente aquela da racionalidade capitalista; um governo oriundo das forças sindicais sequer é capaz de entender as revoltas endêmicas dos operários das barragens; a regulação dos vistos para os imigrantes estrangeiros reproduz para pior as piores políticas de discriminação dos mais pobres (os haitianos e os africanos) que os países do norte aplicaram (e aplicam) contra os brasileiros.
Enfim, parece que tudo se resolve em termos de taxa de juros e de crescimento, segundo linhas de valor transcendentes; ou seja segundo os padrões de valor dominantes. Acontece que esses valores estão hoje totalmente em crise e só se reproduzem com base numa preocupante redução dos espaços democráticos.
Enfim, a questão que se coloca é mesmo de saber se o Sul – e o Brasil em particular – quer mesmo se homologar pelos valores transcendentes (e decadentes) do Norte e de seu capitalismo financeiro ou se, ao contrário, é sua alteridade radical e a sua capacidade de produzir novos valores que interessa. No cerne dessa alternativa se encontra a questão dos pobres e da classe. Por um lado, as forças residuais do movimento socialista mantêm o que de pior houve na experiência socialista, ou seja, suas dimensões positivistas e desenvolvimentistas, aquelas que estiveram na base da degeneração totalitária do stalinismo e consideram a ciência e a indústria como um prêmio da luta de classe.
Nessa tradição – teoricamente extenuada mas ideologicamente ainda ativa – os “pobres” são um estorvo, fruto da anarquia do capital, algo a ser removido pelo crescimento e pela racionalidade, de modo a transformá-los todos em operários e classe média. Por outro lado, na tradição da classe entendida como constituição e luta (o “comunismo” na definição marxiana!), a ciência e indústria não constituem nenhum prêmio, mas são o próprio terreno do conflito, rumo a outros valores. Aqui, a luta dos pobres afirma sua alteridade, ou seja, a riqueza que somente os pobres produzem, em outras palavras, uma outra riqueza, uma outra sociedade. E a alteridade dos pobres tem como sua maior riqueza a diferença, isto é, a capacidade que os pobres têm de serem índios, favelados, negros, imigrantes, mulheres etc. – esta é a riqueza do Sul.
É esta riqueza que se tornou a referência nas montanhas de Chiapas e nos Fóruns Sociais de Porto Alegre. E essa alternativa tem um terreno bastante definido: por um lado, a comemoração da emergência de uma “nova classe média”; pelo outro, o trabalho de reconhecimento do processo de constituição de uma nova classe trabalhadora.
O governo do Rio Grande do Sul pode, nesse panorama, renovar a experiência que foi a base do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, trabalhando ao longo de dois eixos: por um lado, com a inovação das práticas de participação no terreno da mobilização política e produtiva, retomando e qualificando as políticas mais inovadoras dos governos Lula (como está sendo feito com as cotas de cor nos concursos públicos); pelo outro, se apresentando diretamente na cena global junto aos movimentos, proporcionando ocasiões de debate sobre os espaços de construção democrática, entre expressão e representação.
O governo do Rio Grande do Sul tem dois terrenos fundamentais para a experimentação democrática: a evolução das políticas sociais de distribuição de renda em direção a uma Renda Universal (experimentações que podem envolver os próprios dispositivos das políticas sociais, mas também uma nova maneira de enfrentar e dialogar com o corporativismo sindical); a democracia em rede, que a experiência inovadora do Gabinete Digital prefigura como um consistente espaço de mobilização política e de radicalização democrática.
Via Carta Maior.